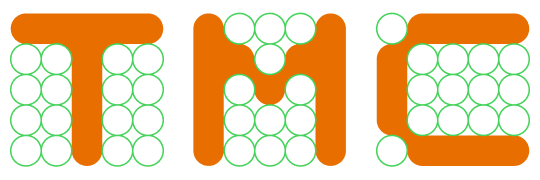Tenho ouvido muita gente falar em guerra.
Pois é…
Sentimos assim.
Mais de cem mortos em um único confronto, corpos de homens com roupas camufladas e coletes à prova de bala estirados na mata, sangue derramado na areia, corpos levados na caçamba de carros… fileiras de cadáveres de cuecas, expostos na crueza do asfalto.
“Parece Gaza!”, muita gente exclama.
E dá mesmo a sensação de que estamos em guerra. Ficamos perplexos com a nossa incapacidade de responder ao crime de maneira eficaz, lamentando profundamente as vidas perdidas de policiais e moradores das comunidades do Alemão e da Penha. Estamos de luto com a tragédia no Rio de Janeiro e, quase todos nós, queremos uma solução para o crime que domina, tortura e mata.
Mas, ainda assim, não somos Gaza. E não estamos em guerra.
A distinção é importante: diagnósticos errados levam a decisões erradas. Em uma guerra, o estado do Rio de Janeiro teria, obrigatoriamente, de pedir uma intervenção federal para que as Forças Armadas assumissem o controle da missão. O próprio governador Cláudio Castro já afirmou que o estado não precisa disso.
A matança brasileira que deixou o mundo perplexo não se configura como guerra, acima de tudo, porque não o é — nem no sentido diplomático, nem jurídico e nem político. Guerras são disputas entre países, como a que acontece há quase quatro anos entre Rússia e Ucrânia. Mesmo a Palestina, ainda não sendo exatamente um país, tem o Hamas como entidade governante da Faixa de Gaza — e, como tal, esteve em guerra com Israel e pode voltar a estar a qualquer momento.
Ainda que a profusão de fuzis nos deixe tentados a comparar o Rio a Gaza, vale lembrar que lá as motivações são completamente distintas. Sem falar que o poderio bélico dos extremistas palestinos é infinitamente maior que o dos criminosos cariocas. E, apesar da inovação recente — o uso de drones para lançar granadas contra policiais —, os criminosos brasileiros não se configuram como um exército e estão longe de possuir o arsenal que o Hamas tinha quando resolveu atacar Israel em 2023.
“Mas o Brasil vive uma guerra civil!”, alguém grita, nervoso.
Ora, guerras civis — aquilo que o direito internacional chama de “conflitos armados de caráter não internacional” — precisam ter motivação política ou ideológica, como acontece hoje no Sudão, onde um grupo paramilitar enfrenta o exército numa disputa pelo poder estatal. Lá, a crise tem dimensões apocalípticas: mais de 150 mil mortos e, segundo estimativas da ONU, mais de 4 milhões de sudaneses refugiados em países vizinhos. Até nas proporções, as crises são diferentes.
Vemos a população das comunidades brasileiras comandadas pelo tráfico sitiada em suas próprias casas, cercada de barricadas e frequentemente exposta à troca de tiros. Sentimos o trágico episódio nos complexos do Alemão e da Penha como se fosse a mais sangrenta das batalhas de uma guerra brasileira.
É possível, sim, que em algum momento um governante brasileiro declare “guerra ao narcotráfico”, mas será uma declaração retórica — assim como foi quando o presidente americano George W. Bush declarou “guerra ao terror” após os ataques de 11 de setembro de 2001. Guerra mesmo foi quando os Estados Unidos invadiram, primeiro, o Afeganistão e, depois, o Iraque.
O nosso conflito, em tudo, é de outra natureza.
E, como tal, precisa ser combatido — não com arroubos populistas nem com a criação de gabinetes de crise improvisados para satisfazer a opinião pública, sem eficácia. A nossa tragédia diária exige um planejamento efetivo e coordenado entre as muitas forças políticas e policiais envolvidas.
Até o menos informado dos brasileiros já ouviu dizer que o Comando Vermelho e outras dezenas de facções atuam como empresas, vendendo não só drogas, mas também serviços e produtos — de gás a internet — e enriquecendo às custas de populações que vivem sob seus domínios ditatoriais, sitiadas por quilômetros e quilômetros de barricadas.
Ainda que coaptem políticos para influenciar decisões, o Comando Vermelho não demonstra intenção, ao menos por ora, de colocar um Urso da Penha, um Marcinho VP ou mesmo um TH Jóias no Palácio do Planalto, em Brasília.
Mas, como sabemos, os objetivos mudam —e o crime se torna mais complexo e refinado a cada vez que o sol nasce sobre o Brasil. Há 26 anos, em uma entrevista para o histórico documentário Notícias de uma Guerra Particular, o então chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Hélio Luz, avaliava que os traficantes não eram suficientemente organizados e não passavam de um “varejão”. O tráfico, naquele distante 1999, parecia sob controle.
A realidade agora é que o varejão dos traficantes já chegou à Faria Lima, e as autoridades brasileiras perderam o controle de uma parte considerável do território nacional. Os traficantes continuam no ramo comercial, usando seus soldados para defender seus negócios e, por enquanto, longe das questões ideológicas e políticas que tanto tempo consomem em nosso país.
Enquanto eles não decidirem mudar de ramo, isso que sentimos como se fosse uma guerra é apenas outro bicho igualmente apavorante: a terrível violência urbana, com raízes profundas na histórica desigualdade de oportunidades — a nossa barbárie particular.
O que nos falta, afinal, não é declarar guerra e criar uma situação em que direitos sejam suprimidos e poderes excepcionais concedidos aos militares. Precisamos definir uma estratégia nacional, deixá-la muito clara para a população — de preferência com um pacto nacional envolvendo a sociedade — e colocar todos os recursos necessários para que tal estratégia seja bem-sucedida, sob o risco de continuarmos perdidos na Serra da Misericórdia.