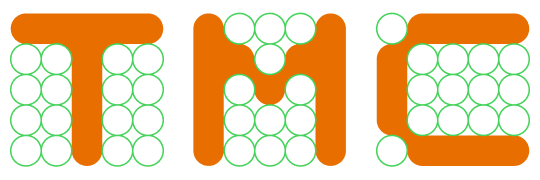Nesta semana, tivemos duas notícias separadas por apenas algumas horas, mas que dizem muito sobre o Brasil. O IBGE revelou que mais de 34 mil crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos vivem em algum tipo de união conjugal. Em 8 a cada 10 casos, são meninas. A entrevista do Censo retratou uma realidade deplorável e ignorada: como a lei brasileira proíbe casamentos antes dos 16 anos, toda convivência conjugal abaixo dessa idade é, na prática, um crime.
Essa notícia passou quase despercebida. A internet não se mobilizou. As pessoas não escreveram textões, não gravaram vídeos, não subiram hashtags, nem bateram panelas pedindo proteção às crianças e adolescentes vulneráveis. O motivo é simples: o casamento infantil acontece longe dos olhos das grandes cidades, e quem convive com esse problema prefere fechar os olhos. Da porta dos outros pra dentro, “é problema dos outros”.
Mesmo quando esse silêncio significa ser conivente com outro crime, também previsto no Código Penal: o estupro de vulnerável, que inclui qualquer relação sexual com menores de 14 anos. Para muitos que se dizem defensores da vida das crianças, o único aspecto que desperta protestos está no campo da moralidade. O abuso e o casamento infantil não chocam; a escolha pelo aborto, sim.
É nesse sentido que chama a atenção a coincidência: no mesmo dia em que o IBGE divulgou os dados sobre casamentos infantis, a Câmara dos Deputados decidiu dificultar o acesso ao aborto legal. Os termos jurídicos são áridos, então vale simplificar: uma resolução do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), em vigor desde dezembro do ano passado, estabelece diretrizes para orientar o poder público em casos de meninas vítimas de violência sexual que buscam o aborto legal.
Essa regra não muda a lei, apenas garante que não é necessário o consentimento dos pais ou tutores para a interrupção da gravidez em caso de estupro (como já previsto na legislação), e dispensa o boletim de ocorrência para identificar o agressor quando a gestante tem menos de 14 anos. É uma tentativa de tornar o atendimento mais rápido, humano e menos constrangedor para vítimas que já sofreram uma violência extrema.
Hoje, o aborto legal é permitido no Brasil em 3 situações: quando a gravidez resulta de estupro, quando há risco de vida para a gestante e nos casos de anencefalia do feto. Nessas situações, o procedimento é feito pelo SUS e não é considerado crime.
Agora, essa resolução pode ser suspensa, caso o Senado confirme a decisão tomada na Câmara. Na votação, foram 317 votos a favor, 111 contra e uma abstenção — números que mostram como o debate sobre aborto desperta um fanatismo que impede o olhar humano sobre quem está no centro da questão. E quem está no centro não são mulheres adultas que engravidam em relações desprotegidas e procuram clínicas clandestinas. Estamos falando de crianças. Meninas menores de idade, vítimas de estupro, violentadas muitas vezes sem sequer entender o que isso significa. Esses casos não são exceção — são rotina. Um estudo da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) estimou uma média de 11 mil partos anuais de meninas menores de 14 anos resultantes de estupro.
Se quisermos discutir o tema com racionalidade, é preciso entender a diferença entre:
1º: ser contra o aborto;
2º: ser contra a legalização do aborto;
3º: impedir que, mesmo nos casos já previstos em lei, a interrupção da gravidez seja possível.
O primeiro é um posicionamento pessoal. Qualquer um tem o direito de ser contra o aborto e, ainda que essa fosse uma possibilidade legal — que não é — optar por não realizá-lo.
O segundo é um posicionamento político. Ser contra a legalização do aborto significa defender que o Estado mantenha a proibição. Não existe essa discussão no Legislativo, então não é necessário entrar nesse mérito por enquanto. O último é a nossa pauta, e os deputados decidiram então transformar uma questão de saúde pública e de proteção à infância em imposição moral. Negar o aborto a uma menina estuprada não é proteger a vida — é prolongar a violência. É impor a própria crença sobre o corpo e o destino de outra pessoa — nesse caso, uma criança.
E nunca é demais repetir: criança não é mãe.