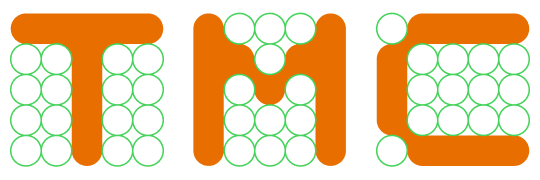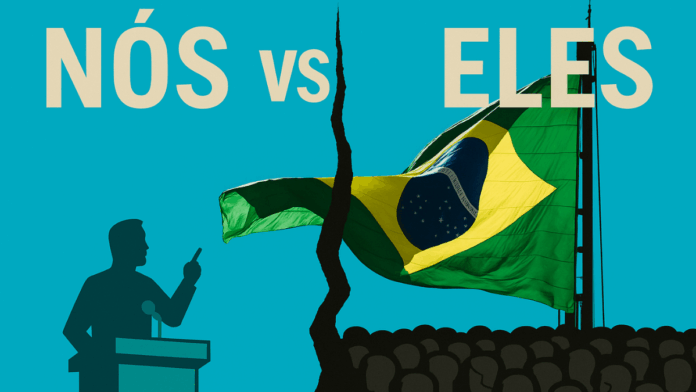O episódio mais mortífero e violento da história moderna do Brasil levantou debates de todos os tipos: de segurança pública, de direitos humanos, antropológicos e políticos. Confesso que este último teve o poder de me irritar. Foi um tal de jogar a culpa uns nos outros, evitar ser responsabilizado e tentar ganhar exposição com a trágica operação do Rio…
Mais uma vez chegamos à triste percepção de que nada é capaz de unir a opinião pública — nem a profunda tristeza de vivermos, enquanto nação, um confronto de guerrilha que afetou toda uma cidade e deixou mais de 100 mortos, entre eles agentes de segurança pública.
Existe uma técnica de mediação de conflitos organizacionais usada quando duas partes não conseguem entrar em acordo e que tem como objetivo encontrar algum ponto comum entre elas. Para isso, em primeiro lugar, os dois lados precisam aceitar que são diferentes. E que não vão convencer o outro a mudar de ideia. Feito isso, partem para o diálogo e não podem sair da conversa sem chegar a algum consenso básico, algo que ambos consigam reconhecer como um valor compartilhado.
E tanto a teoria quanto à prática dão conta de que sempre há uma festa de entendimento.
A nossa realidade não tem nada a ver com crises empresariais. Seria bem mais fácil se assim fosse. Mas quero trazer esse raciocínio para o Brasil dividido entre esquerda e direita; conservadores e progressistas; pró-direitos humanos e pró-armamentismo. Não é possível que não exista um mínimo consenso nessa divisão. Não podemos ser, enquanto país, mais imiscíveis do que água e azeite.
De forma simplista, a polarização da operação do Rio se divide em duas pautas: de um lado, o clamor por justiça e humanidade; do outro, o apelo por ordem e segurança. O lamento pela morte de mais de 120 pessoas não deveria ser restrito a garantistas. E apoiar operações policiais não deveria ser sinônimo de “bandido bom é bandido morto”.
Questões tão complexas como essa precisam unir a população. É tão difícil assim concordarmos que a imagem das dezenas de corpos enfileirados em uma rua do Complexo do Alemão, é o retrato da barbárie que vivemos? E reconhecermos, ao mesmo tempo, que operações e incursões são extremamente necessárias — ainda que em lugares onde moram milhares de pessoas — por que é justamente lá que está a multidão de traficantes? É lá que eles vivem tão escondidos da polícia quanto livres para empunhar armas e ditar as próprias regras. Posso ter enlouquecido, mas estou certa de que essas duas premissas não são excludentes. Para acreditar em uma, não é preciso descartar a outra.
O problema é que, nos últimos anos, vivemos na lógica do “nós x eles”. Se você usa um argumento que parece não se encaixar na minha ideologia, você faz parte do grupo “eles”. E o “nós” odeia o “eles”.
O mais perverso é que muitos políticos se apropriam dessa divisão e a transformam em estratégia eleitoral — e a gente nem se dá conta.
Foi assim que nos tornamos um país que tem pavor de ter algo em comum com quem está do outro lado. Intolerante. Egoísta. Odioso.
Estamos cegos e surdos. Sem ouvidos para o diferente. Sem olhos atentos para o que nos une. E assim seguimos sem evoluir — amargurados em um eterno “nós x eles”